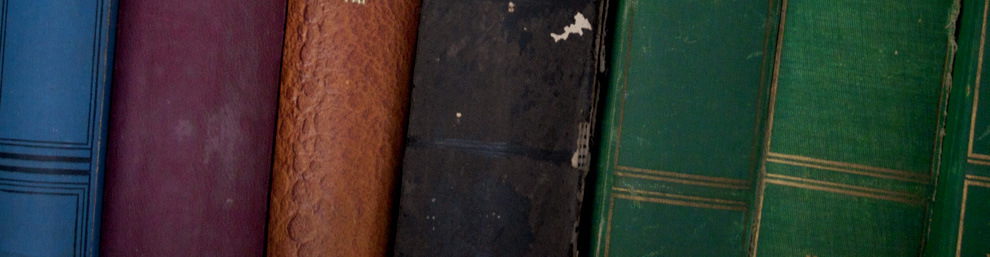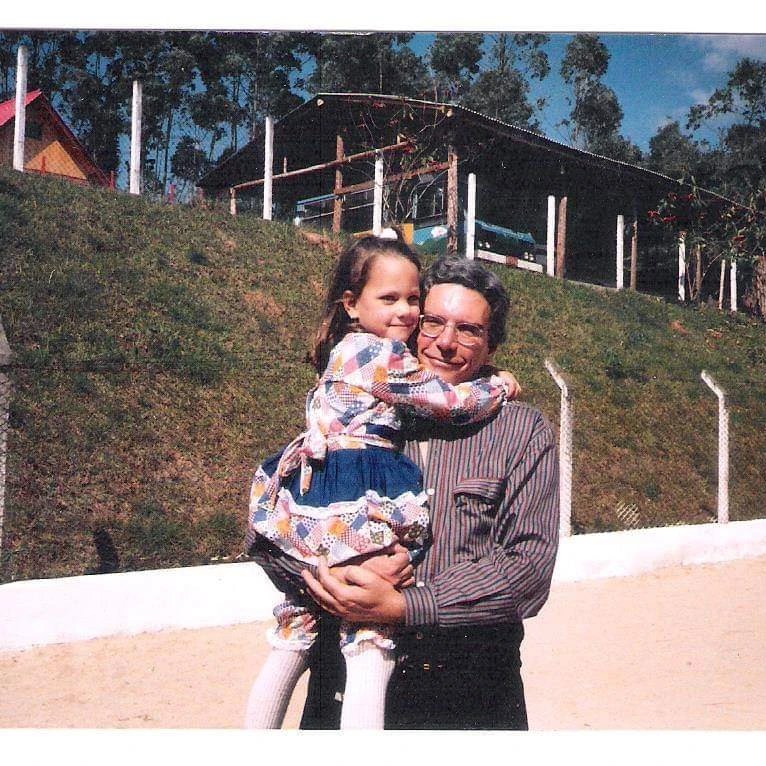Lisboa, 14 de Dezembro de 2023.
Meu querido,
Às vezes, sinto-me a própria reencarnação da quintessência, embriagada pelas epifanias divinais, liberta dos arroubos de galáxia, plena de renúncias. Acabo de tomar banho – são três horas da manhã. Banho é luxo dos navegantes de solidões, nessa porção cronológica.
Gostei imenso de receber as tuas cartas. Tenho aberto, uma por uma, todas as que posso. Elas vêm de inúmeros remetentes, como Carl Gustav Jung, Wislawa Szymborska, Alberto Caeiro, Clarice Lispector.
Lembrei-me, noutro dia, de que sou uma Madame Blavatsky das cartas. Desde os quinze anos, tento atingir a alquimia através delas. Fui capaz de enfeitiçar a avó do meu amor adolescente, ao invés dele mesmo. E jamais saberei o que lhe escrevi, na grafia pueril.
Ah, querido, gostaria de te contar, com detalhes, que presenciei um mendigo fantasiado de chinês, na Praça Paiva Couceiro. E que vi o fantasma de uma amiga, na minha varanda. As quimeras não me perdoam, nestes últimos meses do ano. Vejo as tuas mensagens no açúcar do café, nos letreiros infames das paragens de autocarro, nas placas dos ubers que me carregam, aos pontos finais.
Como sabes, dei-me de presente a viagem à Itália. Fui resgatar minha amizade em Trieste, onde encontrei livrarias belíssimas, e o amor da minha irmã. Escolhi todos os queijos que pude, e fui feliz, ao comê-los, no mínimo terraço de sua casa. Planejei a viagem à Veneza, um pouco receosa. Dantes, jamais havia pisado em um lugar tão sagrado para o meu pai. E não amei Veneza como ele. O cheiro de esgoto se parece tanto comigo. Mas eu não possuo esses canais fingidos de azul, como a cidade perfeita.
Ah, querido, foi em Vicenza que me encontrei.
Conheces?
É uma cidade de bonecas, ou de sonhos de menina. Com palácios e jardins. Um castelo de anões! Bebi café com creme de pistache. E tive o sonho de rodopiar pelo teatro mais antigo do mundo, coberto pelas memórias do paganismo.
Os vinhos de Veneto são diversos dos nossos, querido. Talvez nunca atinjam a mediunidade. E isso é um alívio para mim. A vivência hedonista, ausente de subsolos imundos, ou de raízes cicatrizadas.
Ao retornar à Lisboa, encontrei-me com velhas matriarcas deste reino. Baba Yaga e Nanã, só para teres uma ideia. Fui levada aos confins da minha alma. Abri meus calabouços, entre a loucura e a lucidez, tal como gostas de me ver. Sabes o que existe, no mais escuro de mim? Alguém que se escreveu a si mesma. Acordei, com a caneta em punho, como um bebê, na pia. Entanto, não parti a loiça, não me sangrei – dessa vez.
Renasci.
Houve, também, um dilúvio, dentro da minha casa. Neste mesmíssimo dia. Eu, sabes bem, sou desprovida de vaidade. Nesta tarde, fui ao salão, para cortar os cabelos. Uma chuva alucinante cobria Lisboa. Em duas horas de tormenta, a casa virou piscina. Foram dois dias, até controlar os anseios de Oxum, cá.
A minha iniciação cósmica inconsciente ocorreu no último dia 30 de Novembro. Aniversário de morte, pois, do Fernando Pessoa. E aniversário do meu avô, Carlinhos. Desde então, passo meus dias a estudar o movimento de circumambulação junguiano. A vivência da centelha numinosa, que há, na escuridão absoluta.
Tenho, amado amigo, acedido a fórmulas que conduzem às almas gêmeas. Confesso que, de tanto rezar, talvez tenha conhecido a minha. Todavia, nenhum ser humano que conhece a sua metade deve celebrar. O espelho está longe dos devaneios de finais felizes. A metade é apenas uma maneira da gente se salvar, depois, parafraseando o Cazuza.
Estou fumando muito, querido. E peço ao Niemeyer que me permita chegar ao cerne de mim, sem grandes dores pulmonares. Agarro-me ao meu Desassossego, para vibrar em espirais que me transportem dos abismos.
Faz duas semanas que só saio de casa para comprar tabaco. Não me reconheço, nesse turbilhão de começos. Tenho medo de atropelar a chuva de estrelas cadentes, as Gemínidas, com esses toscos alumbramentos pessoais. Pessoanos.
Cada vez mais, sinto-me menos eu. Mas não te preocupes, não estou enlouquecendo. A morte que me consola é esta: o ego serpentino está pronto para se tornar o dragão alado.
Estou cheia de saudades de ti. Quero a tua companhia, para que possamos abrir todas essas declarações de amor, em harmonia. Porque a harmonia é infinitamente mais sábia que o amor: ela nos traz a exata medida que há, entre o peso e a leveza.
Um pouco cansada de desamarrar meu próprio corpo, finalizo esta carta, meu amor: as promessas são dúvidas, e não dívidas. Podes me ajudar?
Beijinhos grandes,
Mari
P.S: Dedico esta carta ao meu amigo Pedro Drummond.