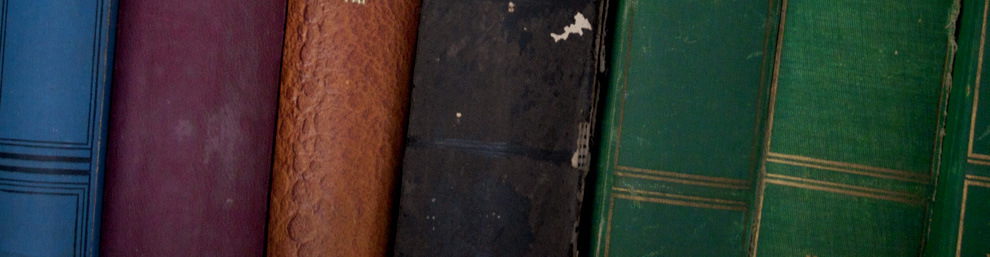Para a Fenomenologia Existencial a poesia é a linguagem mais própria do ser humano. Segundo Bachelard, ela finca suas raízes no aqui-agora, nunca como um “eco do passado”. A poesia sempre inaugura o âmbito da novidade, da abertura de sentidos. Alberto Caeiro, dentro dessa perspectiva, abriu muitos sentidos novos para a poesia ocidental. Seu pensamento está estritamente ligado a uma filosofia oriental, que não fragmenta o homem e a Natureza, que não tem a esquizofrenia (no sentido etimológico da palavra – alma dividida) como referência para tratar do humano; pelo contrário, ele inclui o humano na Natureza, como forma constituinte.
Fernando Pessoa, ao criar Alberto Caeiro, no dia triunfal, não apenas escutou o que chama de inspiração, mas também o fez como um apelo para a reformulação da poesia de sua época. A poesia de Caeiro vem como forma de salvá-lo da “doença do ocidente”. Pessoa era um homem absolutamente obcecado por doenças mentais.
A salvação de Caeiro começa pela integração entre a humanidade e a Natureza, mas vai além, quando recusa a racionalidade como forma de conhecer e acessar as “cousas” e o mundo. Caeiro acredita que o sentir é a forma mais pura de acesso ao mundo, e a única que pode resgatar o sentido. Bachelard concorda com isso. Diz, logo no começo do livro “A poética do espaço” de 1957 que a poesia nunca pode ser enxergada pelo ponto de vista causalista que inunda a cultura humana: “A imagem poética é um súbito realce do psiquismo, realce mal estudado em causalidades psicológicas subalternas”.(2000, p. 1).
Bachelard acredita que o único acesso viável para a poesia é a pessoalidade, entrar em contato diretamente, sem distanciar-se do que se está buscando. Outro aspecto fundamental em sua obra é alertar o leitor que a verdade da imagem poética não pode existir nos rebuscamentos ou metáforas complexas. É na simplicidade que uma imagem adquire grandeza. Caeiro concorda com ele. Toda a sua obra é inspirada apenas nas imagens da Natureza, nas imagens mais corriqueiras:
VI
“(…) Sejamos simples e calmos,
Como os regatos e as árvores,
E Deus amar-nos-á fazendo de nós
Belos como as árvores e os regatos,
E dar-nos-á verdor na sua primavera,
E um rio aonde ir ter quando acabemos! …” (1987, p. 142).
Para Bachelard, todo acontecimento poético é um encontro entre o autor e o leitor. Um encontro genuíno, encontro que coloca a poesia no plano do pertencimento. O leitor acolhe o que ouve através da ressonância e depois a poesia entranha-se nele. Esse movimento nada tem a ver com o raciocínio, com o movimento da mente. É através de um olhar primeiro, ingênuo, infantil que o poema transborda o leitor. Esse aspecto, o olhar primeiro, a ingenuidade é também material repetidamente discutido no poema “Guardador de Rebanhos” de Caeiro:
(…) Dito de maneira mais simples, trata-se aqui de uma impressão bastante conhecida de todo leitor apaixonado por poemas: o poema nos toma por inteiro. Essa invasão do ser pela poesia tem uma marca fenomenológica que não engana. (…) É como se, com sua exuberância, o poema reanimasse profundezas em nosso ser. (…) Por essa repercussão, indo imediatamente além de toda psicologia ou psicanálise, sentimos um poder poético erguer-se ingenuamente em nós. (…). (2000, p. 7).
Em outro livro seu: “O ar e os sonhos”, Bachelard completa essa tese, colocando que o poema expande o universo do leitor, convidando-o a novos sentidos: “O poema é essencialmente uma aspiração a imagens novas. Corresponde à necessidade essencial de novidade que caracteriza o psiquismo humano”. (2001, p. 2). Caeiro, por sua vez, coloca a questão da ingenuidade e do pertencimento não mentalista, não racionalizado através do olhar da criança. O caráter da novidade não pode ser mais claro que no universo infantil, a capacidade de se espantar com a mais simples das imagens:
XXV
“As bolas de sabão que esta criança
Se entretém a largar de uma palhinha
São translucidamente uma filosofia toda.
Claras, inúteis e passageiras como a Natureza,
Amigas dos olhos como as cousas,
São aquilo que são
Com uma precisão redondinha e aérea,
E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa,
Pretende que elas são mais do que parecem ser.
Algumas mal se vêem no ar lúcido.
São como a brisa que passa e mal toca nas flores
E que só sabemos que passa
Porque qualquer cousa se aligeira em nós
E aceita tudo mais nitidamente.” (1987, p. 152).
Essa poesia também inicia uma outra questão que está presente no pensamento de Bachelard. Ao falar da imagem poética não se pode buscar uma essência, algo que está por trás da própria imagem. A imagem é sempre clara, sempre desvela o sentido na sua aparência. Tanto Caeiro quanto Bachelard repudiam a dicotomia aparência / essência. A interpretação de um poema, a tentativa de traduzi-lo, para Bachelard é um modo de fugir da própria poesia.
A poesia assume então a necessidade de abandono das técnicas que o ser humano está mais familiarizado para conhecer. Conhecer uma imagem poética não é “acertar” o seu significado profundo, misterioso. Muito pelo contrário, é aceitá-la em sua simplicidade. Para que a intimidade apareça entre o leitor e o poema é preciso desaprender os métodos causais de busca da verdade. O sentido só se revela quando o encontro existe antes da intelectualização:
(…) Ao recebermos uma imagem poética nova, sentimos seu valor de intersubjetividade. Sabemos que a repetiremos para comunicar nosso entusiasmo. Considerada na transmissão de uma alma para outra, uma imagem poética foge às pesquisas de causalidade. As doutrinas timidamente causais, como a psicanálise, não podem determinar a ontologia do poético. Nada prepara uma imagem poética: nem a cultura, no modo literário, nem a percepção, no modo psicológico. (…). (2000, p. 8).
Caeiro concorda com as afirmações de Bachelard acerca do acesso à poesia. Para ele, não só na poesia, mas em qualquer tentativa humana de conhecer o mundo é preciso desaprender, libertar-se das interpretações. É necessário esvaziar a mente para que o olhar seja verdadeiro. Ao fazer a limpeza de todos os pressupostos teóricos que invadem o olhar se enxerga claramente. Pessoa criou seu mestre debochando do eu-pensante, tentando-se livrar da sua hipertrofia intelectual:
XXIV
“O que nós vemos das cousas são as cousas.
Por que veríamos nós uma cousa se houvesse outra?
Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas
E as flores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores.
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.”. (1987, p. 151).
A linguagem que constitui a poética não é uma linguagem que limita, que define, que encerra o sentido. Cada leitor compreende a poesia de modo único. Não se pode julgá-lo, assinalar veracidade ou equívoco. Todo sentido que se desvela ao ler uma poesia é válido, posto que os sentidos são inesgotáveis e o movimento implica em encobrimento. O mesmo ocorre com os poetas, suas percepções acerca do mundo são singulares. Ao encontrar-se com um sentido, o leitor (tanto quanto o poeta) ilumina uma destinação para aquela imagem, enquanto simultaneamente encobre outra: “(…) Mas a poesia está aí, com seus milhares de imagens imprevisíveis, imagens pelas quais a imaginação criadora se instala nos seus próprios domínios. (…)”. (2000, p. 13).
Caeiro descreve o movimento único do olhar do poeta zombando e distinguindo-se dos poetas que atribuem sensações e sentimentos aos elementos que constroem o mundo. Para ele é muito mais honesto confessar que todas as percepções que esses poetas místicos conferem às “cousas” são, na realidade, os sentimentos que estão percorrendo suas veias.
Bachelard completa esse raciocínio diferenciando a imagem poética da simples metáfora. Para ele não se pode confundi-las. A imagem tem essa função descrita acima, de abertura para a intimidade, de estar sempre em movimento de criação, de ativar a imaginação do leitor. A metáfora tem uma função distinta. Ela já está pronta, definida. A compreensão de uma metáfora não dá ao leitor a liberdade de encontrar o sentido singular, a partir de sua própria existência. Ela carrega em si sua significação própria. Quando o leitor se encontra com uma metáfora, ele não pode dela apropriar-se. A metáfora não habita o íntimo.
O “Guardador de Rebanhos” é um mergulho nas imagens poéticas simples e claras. Não se encontram metáforas. O heterônimo mestre de Pessoa exercita sempre, em todos os poemas, a vivência do olhar primordial, o olhar desprovido de um saber. Suas imagens estão sempre situadas em seus momentos de intimidade com a Natureza. A Natureza é o habitat das imagens que não estão mediadas pelo conhecimento intelectual. A Natureza surge, na obra de Caeiro, como o lugar das não-metáforas.
O que por Caeiro é nomeado Natureza, por Bachelard é conhecido como a imagem da casa. Para o filósofo a casa aparece como a imagem primeira dos devaneios poéticos. A casa propicia a intimidade que a poética oferece ao leitor. É o lugar mais primitivo de acolhimento:
(…) a casa é, evidentemente, um ser privilegiado; isso é claro, desde que a consideremos ao mesmo tempo em sua unidade e em sua complexidade, tentando integrar todos os seus valores particulares em um valor fundamental. A casa nos fornecerá simultaneamente imagens dispersas e um corpo de imagens. Em ambos os casos, provaremos que a imaginação aumenta os valores da realidade. Uma espécie de atração de imagens concentra as imagens em torno da casa. Através das lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além de todas as casas que sonhamos habitar, é possível isolar uma essência íntima e concreta que seja uma justificação do valor singular de todas as nossas imagens de intimidade protegida? Eis o problema central. (…) (2000, p. 23).
Viver a casa é fundamental na existência humana. Ela abriga o ser humano, possibilitando-o sonhar e também não se encerra em um passado que não possa ser re-significado. As lembranças guardadas nas gavetas podem ser revisitadas no presente e adquirirem novas tonalidades de cor. Toda casa, por mais que tenha um passado, inaugura uma nova imagem poética.
A casa de Bachelard caracteriza pela simplicidade. Mesmo os castelos sonhados estão estruturados pela cabana. A casa de Caeiro também é simples. Tão simples que ele lamenta a vivência do homem da cidade. Bachelard discorre sobre a vivência poética do homem contemporâneo, encaixotado nos edifícios. A arquitetura dos apartamentos dificulta o devaneio íntimo do poeta:
(…) A casa não tem raízes. Coisa inimaginável para um sonhador de casa: os arranha-céus não têm porão. Da calçada ao teto, as peças se amontoam e a tenda de um céu sem horizontes encerra cidade inteira. Os edifícios, na cidade, têm apenas uma altura exterior. Os elevadores destroem os heroísmos da escada. Já há não mérito em morar perto do céu. E o em casa não é mais que uma simples horizontalidade. Falta às diferentes peças de um abrigo acuado no pavimento um dos princípios fundamentais para distinguir e classificar os valores de intimidade. (…) (2000, p. 44-45).
Caeiro viveu sempre no campo. Para a sua tuberculose era mais recomendável que vivesse longe dos grandes centros. E o mestre se orgulha da sua morada. Pode entrar diretamente em contato com a solidão das árvores, com a grandeza de uma trovoada, com a impotência frente ao inverno, ou o nascimento da primavera. Ele tem pena dos homens da cidade e se compadece do sofrimento daqueles homens que têm a alma no campo, embora estejam aprisionados nas cidades:
III
“Ao entardecer, debruçado pela janela,
E sabendo de soslaio que há campos em frente,
Leio até me arderem os olhos
O livro de Cesário Verde.
Que pena que tenho dele! Ele era um camponês
Que andava preso em liberdade pela cidade.
Mas o modo como olhava para as casas,
E o modo como reparava nas ruas,
E a maneira como dava pelas cousas,
É o de quem olha para árvores,
E de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando
E anda a reparar nas flores que há pelos campos…
Por isso ele tinha aquela grande tristeza
Que ele nunca disse bem que tinha,
Mas andava na cidade como quem anda no campo
E triste como esmagar flores em livros
E pôr plantas em jarros…” (1987, p. 139).
O homem das cidades não apenas vive o aprisionamento da sua liberdade, mas também apresenta maior dificuldade de encontrar-se com as “cousas” elas mesmas, voltar o olhar para a redescoberta dos universos que se configuram no olhar infância. O homem das cidades acredita-se enorme, enquanto o homem dos campos enxerga-se miniatura. Mas o homem das cidades é infinitamente menor que o homem dos campos, dirá Caeiro. Até mesmo porque restringe o Universo a si. A grandeza, mesmo na pequenez encontra-se na inocência do olhar e não na tentativa de controlar o mistério…
VII
“Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no Universo…
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer
Porque eu sou do tamanho do que vejo
E não, do tamanho da minha altura…
Nas cidades a vida é mais pequena
Que aqui na minha casa no cimo deste outeiro.
Na cidade as grandes casas fecham a vista à chave,
Escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe
de todo o céu,
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos
nos podem dar,
E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.” (1987, p. 142).
Esse poema de Caeiro ilumina uma questão que é trabalhada por Bachelard, na construção das imagens poéticas. Em um dos capítulos da “Poética do Espaço” ele devaneia a imagem da miniatura. A principio parece que é uma imagem insignificante, pequena também no sentido figurado. Ao longo do texto, Bachelard vai possibilitando ao leitor a abertura de novos sentidos que compõem a imagem mínima.
Para o filósofo, a imagem da miniatura traz consigo a concentração do devaneio. Não é apenas porque o espaço é pequeno que seu devaneio seja minúsculo. A imaginação ultrapassa os valores concebidos pela geometria, e em sentido amplo, pela lógica cartesiana em geral.
Não é à toa que Bachelard encaixa a criança e a própria infância na imagem da miniatura. Elas são mais do que sua própria altura e seus devaneios erguem os brinquedos em tamanhos “reais”, ou até mesmo gigantes. Porque as crianças e, sobretudo o olhar infantil sobre o mundo é como a poesia de Caeiro: “Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura…”.
A condensação da imagem que a miniatura viabiliza não é mais que uma faceta da intimidade. Não é, pois, uma faceta qualquer, que deva ser dispensada pelo interrogador dos sentidos. A imersão na miniatura só pode se dar quando o poeta permite-se ultrapassar os limites físicos dos seus devaneios. Segundo Bachelard: “O homem da lupa toma o Mundo como uma novidade”. (2000, p. 163).
A capacidade de entrar em contato com o detalhe, com o pequeno devaneio é propiciada pelo surpreender-se. Pois a cada momento a miniatura traz ao observador uma nova e inesperada característica. Os olhos precisam estar muito atentos para os desvelamentos que não passem despercebidos. Caeiro insiste nesse olhar que, ao descrever a Natureza, a ama.
Novamente aparece, em ambos autores a questão do primeiro olhar, o olhar que não verifica, mas que se espanta com o que se abre diante dele. O poeta necessita exercitar o seu olhar, se prender nas pequenas imagens e nos pequenos sonhos para desvendar algumas das verdades do mundo.
Porque o poeta não precisa rebuscar os devaneios para ser belo, ou mesmo para ser real. O poeta precisa também enxergar a irrealidade das “cousas” para compreendê-las. Da simplicidade brotam universos de destinos. Pois os universos têm como referência seus núcleos. Em cada átomo existe um mundo, esperando para ser sonhado.
O encontro entre o poeta e seu devaneio mínimo necessita paciência, diz Bachelard. É preciso esperar que o átomo apareça perante os olhos. Deixar o tempo ser protagonista do devaneio implica em solidão. Muitas vezes, como os pescadores, é em silêncio e apenas na presença de si mesmo que o poeta consegue enxergar os sons que anunciam a miniatura.
O poeta precisa acalmar-se para sentir toda a imensidão que há no mundo das pequenas coisas. O poeta só enxerga se a sua referência for a casa natal, a casa-natureza, que espera o tempo das coisas mesmas. O poeta precisa estar entregue à natureza, pois entre os dois existe pertencimento. Os dois são partes integrantes de um mesmo universo de sentidos… O sonhador impaciente com o surgimento de seus versos é como se a Natureza desejasse acelerar a duração das estações do ano.
Quando o devaneio da miniatura atinge o universo na menor das imagens, Bachelard introduz a imensidão. O imenso que pode existir em uma pedra, em uma flor, em um pôr-do-sol. A principal característica do imenso é a transcendência das fronteiras físicas, tal qual ocorre nas miniaturas.
A imensidão não é um devaneio que tenha um espaço delimitado. É um devaneio que está suspenso entre as “cousas”, delineado pelo nada que permeia o mundo. Somente a partir da compreensão da miniatura o poeta aceita o infinito. Aceita que tudo o que se encontra no mundo pode ser enxergado de inesgotáveis maneiras, aceita que o mundo é muito maior que sua poesia.
Mas há algo ainda mais importante em redimir-se perante a imensidão do Universo. O poeta que se aceita mínimo é também o poeta que sabe que não é o possuidor da sua poesia. Ao encontrar-se com o nada, o poeta se aprisiona em liberdade. Sabe que é um escravo das verdades do mundo e que, dessa forma, escreve seus versos para a humanidade como um todo, e não apenas para liberar suas próprias angústias existenciais.
A imaginação dos poetas é um culto ao mundo e não só a si próprio. Ao compreender o movimento do infinito, o poeta também se torna ilimitado. É aí que podemos entender como a poesia escrita por outrem é também uma poesia que pertence ao leitor. O poeta não escreve para si, nem acredita em sua poesia como sua posse. Afinal, como ela está no mundo, a ele pertence. Pessoa bem conhece a não propriedade de seus versos. O exemplo mais claro é a descrição de sua vivência no dia triunfal, quando Caeiro dele se apossou e durante toda a madrugada escreveu os versos que compõem o imenso poema “Guardador de Rebanhos”. Pessoa admite que não era ele ali quem escrevia, era apenas a sua mão o instrumento para Caeiro aparecer. Do mesmo modo, o poeta mestre compreende que de seus versos não é dono pois dele também não é o Universo:
XLVIII
“Da mais alta janela da minha casa
Com um lenço branco digo adeus
Aos meus versos que partem para a Humanidade.
E não estou alegre nem triste.
Esse é o destino dos versos.
Escrevi-os e devo mostrá-los a todos
Porque não posso fazer o contrário
Como a flor não pode esconder a cor,
Nem o rio esconder que corre,
Nem a árvore esconder que dá fruto.
Ei-los que vão já longe como que na diligência
E eu sem querer sinto pena
Como uma dor no corpo.
Quem sabe quem os terá?
Quem sabe a que mãos irão?
Flor, colheu-me o meu destino para os olhos.
Árvore, arrancaram-me os frutos para as bocas.
Rio, o destino da minha água era não ficar em mim.
Submeto-me e sinto-me quase alegre,
Quase alegre como quem se cansa de estar triste.
Ide, ide de mim!
Passa a árvore e fica dispersa pela Natureza.
Murcha a flor e o seu pó dura sempre.
Corre o rio e entra no mar e a sua água é sempre a que foi sua.
Passo e fico, como o Universo”.
O poeta se traduz exatamente como ocorre com a Natureza. Do mesmo modo que há uma generosidade dos rios, árvores e flores, ele também se oferece ao mundo, compreende-se ferramenta para que a poesia possa se expressar. O poeta ouve o que pede o mundo e escreve, quase possuído pelas palavras. Pessoa chama essa experiência de psicografia, como se a vivência do poeta fosse a mesma vivência do médium que recebe as mensagens do além. Só que, no caso do escravo da verdade, são mensagens do Universo…
O poeta é o protagonista da contemplação perante o mundo. Ele precisa chegar tão perto do mundo que deseja sonhar que até mesmo pode-se fundir com ele por alguns instantes. O distanciamento impossibilita as imagens poéticas. A imaginação traduz por uma singela imagem todo um universo. Nas palavras do poeta pode-se perceber o quanto o todo toca as partes e as transforma em imagens de redondeza. Circulares são os devaneios poéticos.
Na análise do redondo encontramos a tranquilidade que Bachelard nos convida a sentir. Porque a redondeza dos versos abriga o âmbito do vazio fértil e ao mesmo tempo constitui um universo em uma simples imagem. Caeiro, ao criticar os valores impostos pela metafísica e pelo pensamento racional, compreende o redondo das suas imagens. E com a imagem do menino Jesus, vai ensinando como o olhar primeiro é fundamental para a poesia, como a inocência das crianças necessita contaminar os olhares da poesia. A partir de cada árvore, cada flor e cada pedra o redondo se manifesta. E, portanto, através dos devaneios cósmicos, todos os elementos do mundo se transformam em Universos de Sentidos:
VIII
“Num meio-dia de fim de primavera
Tive um sonho como uma fotografia.
Vi Jesus Cristo descer à terra.
Veio pela encosta de um monte
Tornado outra vez menino,
A correr e a rolar-se pela erva
E a arrancar flores para as deitar fora
E a rir de modo a ouvir-se de longe.
Tinha fugido do céu.
Era nosso demais para fingir
De segunda pessoa da Trindade.
No céu era tudo falso, tudo em desacordo
Com flores e árvores e pedras.
No céu tinha que estar sempre sério
E de vez em quando de se tornar outra vez homem
E subir para a cruz, e estar sempre a morrer
Com uma coroa toda à roda de espinhos
E os pés espetados por um prego com cabeça,
E até com um trapo à roda da cintura
Como os pretos nas ilustrações.
Nem sequer o deixavam ter pai e mãe
Como as outras crianças.
O seu pai era duas pessoas
Um velho chamado José, que era carpinteiro,
E que não era pai dele;
E o outro pai era uma pomba estúpida,
A única pomba feia do mundo
Porque não era do mundo nem era pomba.
E a sua mãe não tinha amado antes de o ter.
Não era mulher: era uma mala
Em que ele tinha vindo do céu.
E queriam que ele, que só nascera da mãe,
E nunca tivera pai para amar com respeito,
Pregasse a bondade e a justiça!
Um dia que Deus estava a dormir
E o Espírito Santo andava a voar,
Ele foi à caixa dos milagres e roubou três.
Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido.
Com o segundo criou-se eternamente humano e menino.
Com o terceiro criou um Cristo eternamente na cruz
E deixou-o pregado na cruz que há no céu
E serve de modelo às outras.
Depois fugiu para o sol
E desceu pelo primeiro raio que apanhou.
Hoje vive na minha aldeia comigo.
É uma criança bonita de riso e natural.
Limpa o nariz ao braço direito,
Chapinha nas poças de água,
Colhe as flores e gosta delas e esquece-as.
Atira pedras aos burros,
Rouba a fruta dos pomares
E foge a chorar e a gritar dos cães.
E, porque sabe que elas não gostam
E que toda a gente acha graça,
Corre atrás das raparigas pelas estradas
Que vão em ranchos pela estradas
com as bilhas às cabeças
E levanta-lhes as saias.
A mim ensinou-me tudo.
Ensinou-me a olhar para as cousas.
Aponta-me todas as cousas que há nas flores.
Mostra-me como as pedras são engraçadas
Quando a gente as tem na mão
E olha devagar para elas.
Diz-me muito mal de Deus.
Diz que ele é um velho estúpido e doente,
Sempre a escarrar no chão
E a dizer indecências.
A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia.
E o Espírito Santo coça-se com o bico
E empoleira-se nas cadeiras e suja-as.
Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica.
Diz-me que Deus não percebe nada
Das coisas que criou —
“Se é que ele as criou, do que duvido” —
“Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória,
Mas os seres não cantam nada.
Se cantassem seriam cantores.
Os seres existem e mais nada,
E por isso se chamam seres.”
E depois, cansados de dizer mal de Deus,
O Menino Jesus adormece nos meus braços
e eu levo-o ao colo para casa.
…………………………………………………………………..
Ele mora comigo na minha casa a meio do outeiro.
Ele é a Eterna Criança, o deus que faltava.
Ele é o humano que é natural,
Ele é o divino que sorri e que brinca.
E por isso é que eu sei com toda a certeza
Que ele é o Menino Jesus verdadeiro.
E a criança tão humana que é divina
É esta minha quotidiana vida de poeta,
E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre,
E que o meu mínimo olhar
Me enche de sensação,
E o mais pequeno som, seja do que for,
Parece falar comigo.
A Criança Nova que habita onde vivo
Dá-me uma mão a mim
E a outra a tudo que existe
E assim vamos os três pelo caminho que houver,
Saltando e cantando e rindo
E gozando o nosso segredo comum
Que é o de saber por toda a parte
Que não há mistério no mundo
E que tudo vale a pena.
A Criança Eterna acompanha-me sempre.
A direção do meu olhar é o seu dedo apontando.
O meu ouvido atento alegremente a todos os sons
São as cócegas que ele me faz, brincando, nas orelhas.
Damo-nos tão bem um com o outro
Na companhia de tudo
Que nunca pensamos um no outro,
Mas vivemos juntos e dois
Com um acordo íntimo
Como a mão direita e a esquerda.
Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas
No degrau da porta de casa,
Graves como convém a um deus e a um poeta,
E como se cada pedra
Fosse todo um universo
E fosse por isso um grande perigo para ela
Deixá-la cair no chão.
Depois eu conto-lhe histórias das cousas só dos homens
E ele sorri, porque tudo é incrível.
Ri dos reis e dos que não são reis,
E tem pena de ouvir falar das guerras,
E dos comércios, e dos navios
Que ficam fumo no ar dos altos-mares.
Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade
Que uma flor tem ao florescer
E que anda com a luz do sol
A variar os montes e os vales,
E a fazer doer nos olhos os muros caiados.
Depois ele adormece e eu deito-o.
Levo-o ao colo para dentro de casa
E deito-o, despindo-o lentamente
E como seguindo um ritual muito limpo
E todo materno até ele estar nu.
Ele dorme dentro da minha alma
E às vezes acorda de noite
E brinca com os meus sonhos.
Vira uns de pernas para o ar,
Põe uns em cima dos outros
E bate as palmas sozinho
Sorrindo para o meu sono.
…………………………………………………………….
Quando eu morrer, filhinho,
Seja eu a criança, o mais pequeno.
Pega-me tu ao colo
E leva-me para dentro da tua casa.
Despe o meu ser cansado e humano
E deita-me na tua cama.
E conta-me histórias, caso eu acorde,
Para eu tornar a adormecer.
E dá-me sonhos teus para eu brincar
Até que nasça qualquer dia
Que tu sabes qual é.
……………………………………………………………
Esta é a história do meu Menino Jesus.
Por que razão que se perceba
Não há de ser ela mais verdadeira
Que tudo quanto os filósofos pensam
E tudo quanto as religiões ensinam?”