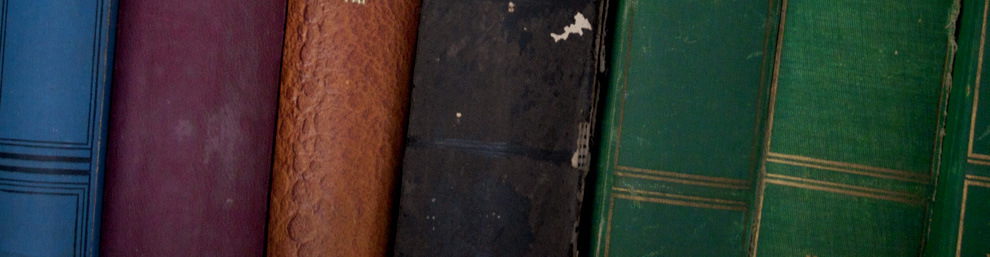Esqueço-me, por vezes, a inesgotável e inaudível beleza das tuas madrugadas. Silenciosas. Sinto-me envergonhada, Lisboa, por querer tanto de ti e de tão pouco me doar. Insone, entorpecida, descabida… Não és tu, sou eu. Eu, este ser tão carente e tão solitário. Eu, repleta de perguntas que sempre voltam às mesmas interrogativas inexistentes. Eu, analfabeta do âmago de minha alma.
Peço-te perdão por todo o meu desdém. És linda! Tens o enorme coração cravado na Praça do Comércio, que deixa a noite com esplendidez. E como o coração é grande, ele me inunda ao pé da Avenida Liberdade, principalmente com a vista inconfundível de meu novo trabalho, à margem da esplanada, no Cinema São Jorge. Há um rio, digno de aorta. Um imenso oceano capaz de levar os pensamentos além-mar. Deixa imensas saudades nos olhos, quando procuro verdadeiros amigos. Periféricas estrelas apontam o triste Cristo Rei, fruto do descuido e da confiança perdida. Um dia foste permeada pela crença. Hoje há em ti a incômoda incerteza. Um não-poder-partilhar-segredos. Choro, junto contigo, quando há chuva. Sinto o teu vento a cortar-me sem piedade os lábios e o espírito intransigente.
Há dias em que acordo – ressoando as palavras de um amigo quase português – com tanto medo! A cama tem tentáculos. Firmes, rijos. Possuo uma estranha sensação. Gostaria de deixar minha raiz, colocar de lado minha nação – nação que com robustez idolatro. Cresci, ó cidade, rodeada por negros, pobres e anões. Nunca os diferenciei pela pele, pedigree ou altura. Não me peças para o fazer. Incapaz me torno, perante ao preconceito que rompe. A minha boca é pouco para descrever minhas dilaceradas pétalas. Cá sou cristal.
Contudo, pela incrível leveza dos diálogos aparentemente infrutíferos, percebo a soberania de escrever e de fazer terapia com as minhas letras. Agradeço a herança primordial – e tua. Ai, as lindas palavras de tua língua. À procura não estou de teus cidadãos plangentes. Minha jornada é canhestra. Existe um eterno ribombo dentro dos meus sentimentos. Dona de bálsamos, ungências e feridas. Mas dona, apenas eu e mais ninguém.
Não me deites fora. Digo isso para ouvir o conselho vindo de minha inteligência racional. Pude me deitar fora em muitas ocasiões. Na lixeira propriamente dita, em diarréias incolores, nos braços frígidos de um homem sem paixão, nos copos do Bairro Alto. Recôndita. Minha face está enfim liberta. Contorno. Sorrisos impronunciáveis. A descoberta da vinda! Asperamente estou a retirar o curativo. O sangue não está mais grudado no branco e gigantesco pano. O sangue se calou. Não há renúncia da morada minha. Pinto em nanquim as esquadrias da percepção sublimada. Adoro-te. Os paroxismos estancados, por fim. O latejar que revive apenas ouvidos atentos. As orelhas fartas das mesmas ladainhas. Ladainhas imaginadas pela minha pobreza de sentidos.
Amanhã, quando o corpo estiver descansado, irei fazer uma visita enamorada em tua presença. Exaltarei as cores do sol que só pertencem a ti. Como as janelas dispostas do sótão, aceitarei os raios azuis e amarelos. Posso sonhar ao teu lado. Recolher-me no frio de teus porões também, porque a vida é feita de uma suculenta umidade. O negrume da lama e o calor do nosso pacto. Enoveladas pela sagrada, esfuziante conversação íntima. Eu e tu, Lisboa, anuentes. Tu em mim. Alagas em saliva, fragmento após fragmento, as horríveis nódoas de minhas roucas cordas vocais. És a mim um convite. Cerne meu. Órbita da missão. Nós duas, ambas inconclusas.