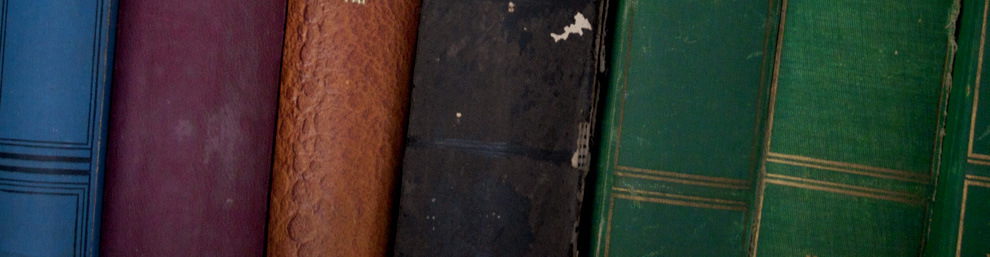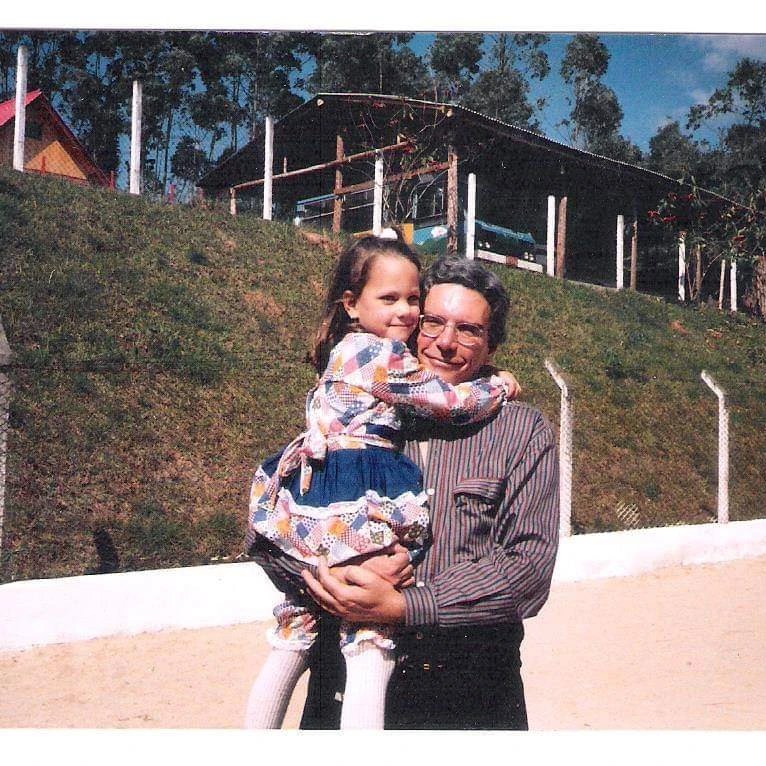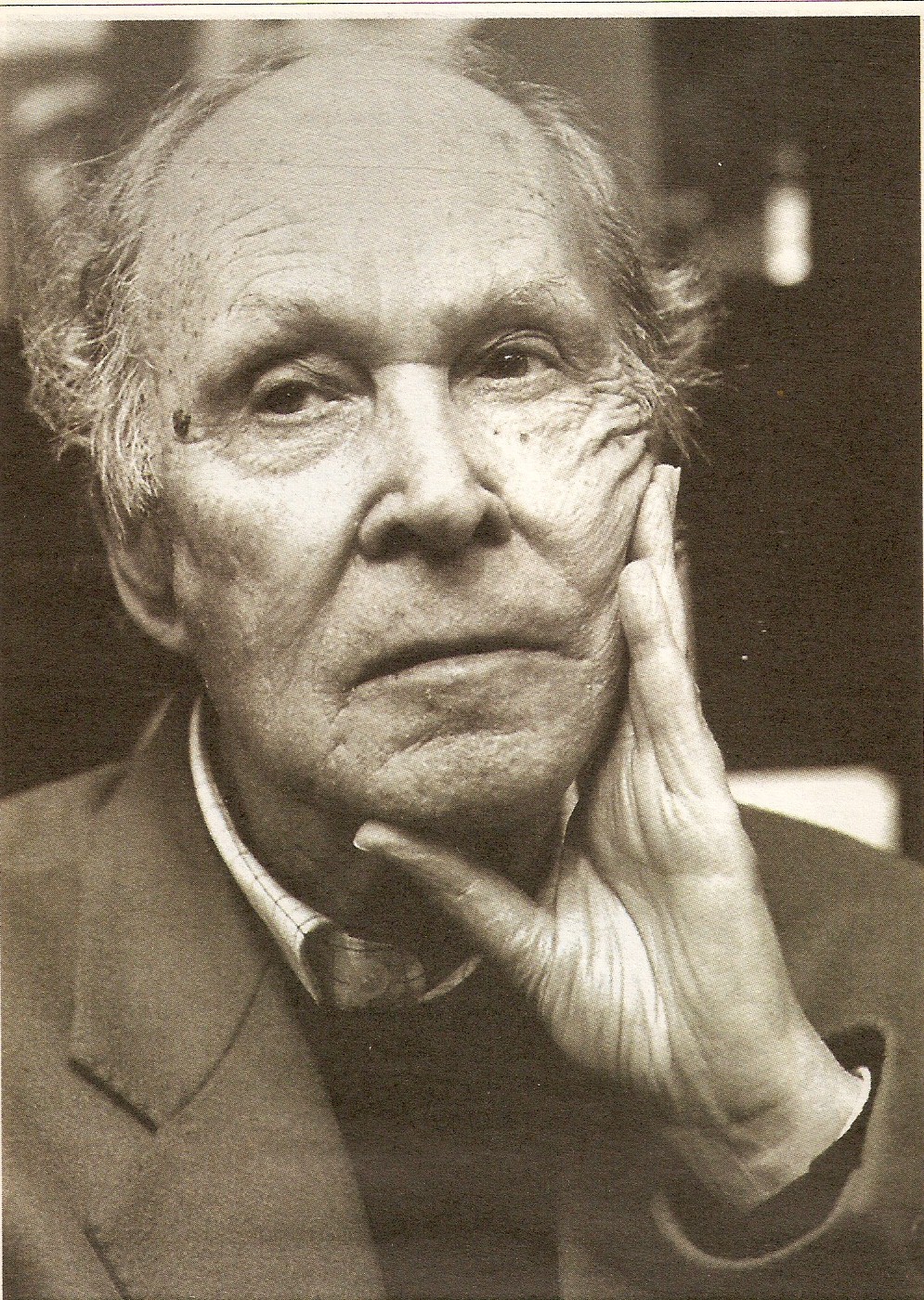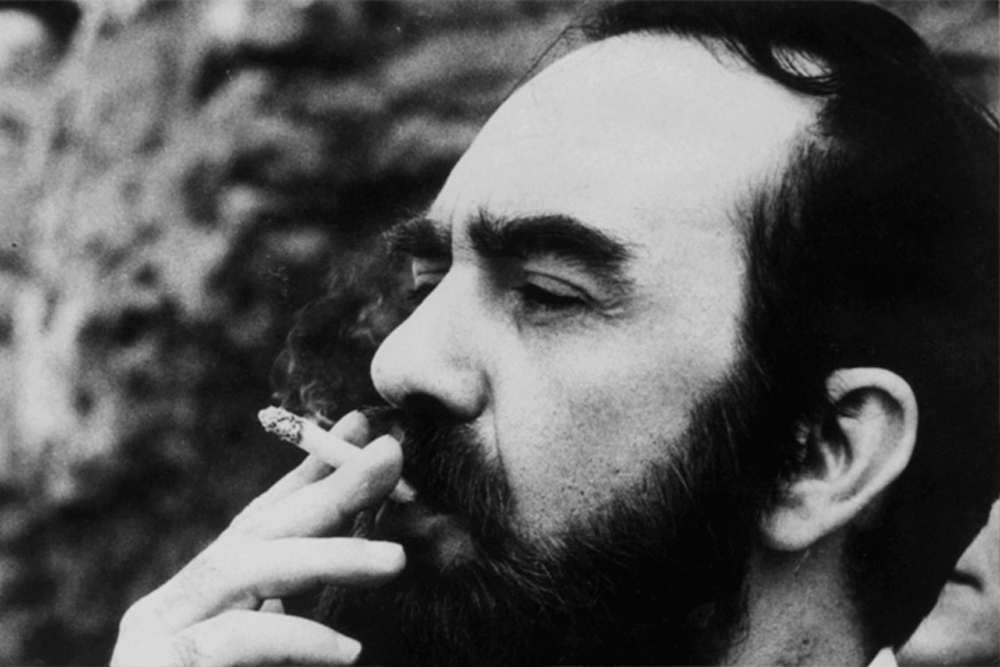É costume dizer-se, desde que alguém começou a dizê-lo, que, para compreender um sistema filosófico, é preciso compreender o temperamento do filósofo. Como todas as coisas com ar de cenas, e que se espalham, isto é asneira; se o não fosse, não se teria espalhado. Confunde-se a filosofia com a formação dela. O meu temperamento pode levar-me a dizer que dois e dois são cinco, mas a afirmação de que dois e dois são cinco é falsa independentemente do meu temperamento, seja ele qual for. Pode ser interessante saber como é que eu vim a afirmar essa falsidade, mas isso nada tem com a própria falsidade, tem que ver somente com a razão do seu aparecimento.
O meu mestre Caeiro era um temperamento sem filosofia, e por isso a filosofia dele – que a tinha, como toda a gente – não é susceptível sequer destas brincadeiras do jornalismo intelectual. Não há dúvida que, sendo um temperamento, isto é, sendo um poeta, o meu mestre Caeiro exprimiu uma filosofia, isto é, um conceito do universo. Esse conceito do universo é, porém, instintivo e não intelectual; não pode ser criticado como conceito, porque não está lá, e não pode ser criticado como temperamento, porque o temperamento não é criticável.
As ideias organicamente ocultas na expressão poética do meu mestre Caeiro tentaram definir-se, com maior ou menor felicidade lógica, em certas teorias do Ricardo Reis, em certas teorias minhas, e no sistema filosófico -esse perfeitamente definido – do António Mora. Tão fecundo é Caeiro que cada um de nós três, devendo todos o pensamento da alma ao nosso mestre comum, produziu uma interpretação da vida inteiramente diferente da de qualquer dos outros dois. Verdadeiramente, não há direito de comparar a minha metafísica, e a do Ricardo Reis, que são meras vaguidades poéticas tentando esclarecer-se (ao contrário de em Caeiro, onde a alma era de certezas poéticas não buscando esclarecer-se), com o sistema de António Mora, que é realmente um sistema, e não uma atitude ou um remexer. Mas, enfim, ao passo que Caeiro afirmava coisas que, estando todas certas umas com as outras (como todos percebíamos) numa lógica que excede – como uma pedra ou uma árvore – a nossa compreensão, não eram contudo coerentes na sua superfície lógica, tanto o Reis, como eu (não falemos no Mora, por nosso superior em qualidade nesta matéria) tentávamos encontrar uma coerência lógica no que pensávamos, ou supunhamos que pensávamos, a respeito do Mundo. E isso, que pensávamos ou supunhamos que pensávamos, a respeito do mundo, isso devíamos a Caeiro, descobridor das nossas almas, colonizadas depois por nós.
Propriamente falando, Reis, Mora e eu somos três interpretações orgânicas de Caeiro. Reis e eu, que somos fundamentalmente embora diversamente poetas, interpretamos ainda com sujidades do sentimento. Mora, puramente intelectual, interpreta com a razão; se tem sentimento, ou temperamento, anda disfarçado.
O conceito da vida, formado por Ricardo Reis, vê-se muito claramente nas suas odes, pois, quaisquer que sejam os seus defeitos, o Reis é sempre claro. Esse conceito da vida é absolutamente nenhum, ao contrário do de Caeiro, que também é nenhum, mas às avessas. Para Ricardo Reis, nada se pode saber do universo, excepto que nos foi dado como real um universo material. Sem necessariamente aceitarmos como real esse universo, temos que o aceitar como tal, pois não nos foi dado outro. Temos que viver nesse universo, sem metafísica, sem moral, sem sociologia nem política. Conformemo-nos com esse universo externo, o único que temos, assim como nos conformariamos com o poder absoluto de um rei, sem discutir se é bom ou mau, mas simplesmente porque é o que é. Reduzamos a nossa acção ao mínimo, fechando-nos quanto possível nos instintos que nos foram dados, e usando-os de modo a produzir o menos desconforto para nós e para os outros, pois tem igual direito a não ter desconforto. Moral negativa, mas clara. Comamos, bebamos e amemos (sem nos prender sentimentalmente à comida, à bebida e ao amor, pois isso traria mais tarde elementos de desconforto); a vida é um dia, e a noite é certa; não façamos a ninguém nem bem nem mal, pois não sabemos o que é bem ou mal, e nem sequer sabemos se fazemos um quando supomos fazer o outro, a verdade, se existe, é com os Deuses, ou seja com as forças que formaram ou criaram, ou governam, o mundo – forças que, como na sua acção violam todas as nossas ideias do que é moral e todas as nossas ideias do que é imoral, estão patentemente além ou fora de qualquer conceito do bem ou do mal, nada havendo a esperar delas para nosso bem ou até para mal nosso. Nem crença na verdade, nem crença na mentira; nem optimismo nem pessimismo. Nada: a paisagem, um copo de vinho, um pouco de amor sem amor, e a vaga tristeza de nada compreender e de ter que perder o pouco que nos é dado. Tal é a filosofia de Ricardo Reis. É a de Caeiro endurecida, falsificada pela estilização. Mas é absolutamente a de Caeiro, de outro modo: o aspecto côncavo daquele mesmo arco de que a de Caeiro é o aspecto convexo, o fechar-se sobre si mesmo daquilo que em Caeiro está virado para o Infinito – sim, para o mesmo infinito que nega.
É isto – este conceito tão fundamente negativo das coisas – que dá à poesia de Ricardo Reis aquela dureza, aquela frieza, que ninguém negará que tem, por mais que a admire; e quem a admira – pouca gente – é por essa mesma frieza, aliás, que a admira. Nisto, de resto, Caeiro e Reis são iguais, com a diferença que Caeiro tem frieza sem dureza; que Caeiro, que é a infância filosófica da atitude de Reis, tem a frieza de uma estátua ou de um píncaro nevado, e Reis tem a frieza de um belo túmulo ou de um maravilhoso rochedo sem sol nem onde haver musgos. E é por isto que, sendo a poesia de Reis rigorosamente clássica na forma, é totalmente destituída de vibração – mais ainda que a de Horácio, apesar do maior conteúdo emotivo e intelectual. A tal ponto é intelectual, e portanto fria, a poesia de Reis, que quem não compreender um poema dele (o que facilmente sucede, dada a excessiva compressão) não lhe apreende o ritmo.
Comigo o que se passou foi o mesmo que o que se passou com Ricardo Reis, com a diferença que foi o contrário. O Reis é um intelectual, com o mínimo de sensibilidade de que um intelectual precisa para que a sua inteligência não seja simplesmente matemática, com o mínino do que ente humano precisa para se poder verificar pelo termómetro que não está morto. Eu sou exasperadamente sensível e exasperadamente inteligente. Nisto pareço-me (salvo um bocado mais de sensibilidade, e um bocado menos de inteligência) com o Fernando Pessoa; mas, ao passo que no Fernando a sensibilidade e a inteligência entrepenetram-se, confundem-se, interseccionam-se, em mim existem paralelamente, ou, melhor, sobrepostamente. Não são cônjuges, mas gémeos desavindos. Assim, expontaneamente formei a minha filosofia daquela parte da insinuação de Caeiro de que Ricardo Reis não tirou nada. Refiro-me à parte de Caeiro que está integralmente contida naquele verso, «E os meus pensamentos são todos sensações»; o Ricardo Reis deriva a sua alma daquele outro verso, que Caeiro se esqueceu de escrever, «as minhas sensações são todas pensamentos». Quando me designei como «sensacionista» ou «poeta sensacionista» não quis empregar uma expressão de escola poética (santo Deus! escola!); a palavra tem um sentido filosófico.
Não creio em nada senão na existência das minhas sensações; não tenho outra certeza, nem a do tal universo exterior que essas sensações me apresentam. Eu não vejo o universo exterior, eu não oiço o universo exterior, eu não palpo o universo exterior. Vejo as minhas impressões visuais; oiço as minhas impressões auditivas; palpo as minhas impressões tácteis. Não é com os olhos que vejo, mas com a alma; não é com os ouvidos que oiço, mas com a alma; não é com a pele que palpo, é com [a alma.] E, se me perguntarem o que é a alma, respondo que sou eu. De aqui a minha divergência fundamental do fundamental intelectual de Caeiro e de Reis, mas não do fundamental instintivo e sensitivo em Caeiro. Para mim o universo é apenas um conceito meu, uma síntese dinâmica e projectada de todas as minhas sensações. Verifico, ou cuido verificar, que coincidem com as minhas grande número das sensações de outras almas, e a essa coincidência chamo o universo exterior, ou a realidade. Isso nada prova da realidade absoluta do universo porque existe a hipnose colectiva. Já vi um grande hipnotizador obrigar um grande número de pessoas ver, positivamente ver, a mesma hora falsa em relógios que o não estavam. Concluo de aqui a existência de um Hipnotizador supremo, a quem chamo Deus, porque consegue impor a sua sugestão à generalidade das almas, as quais, contudo, não sei se ele criou ou não criou, porque não sei o que é criar, mas que é possível que criasse, cada uma para si mesma, como o hipnotizador me pode sugerir que sou outra pessoa ou que sinto uma dor que eu não posso dizer que não sinto, pois que a sinto. Para mim ser «real» consiste em ser susceptível de ser experienciado por todas as almas; e isto obriga-me a acreditar num Hipnotizador Infinito, pois criou uma sugestão chamada universo capaz de ser experienciado por todas as almas, não só reais, mas até possíveis. À parte isto, sou engenheiro – isto é, não tenho moral, política ou religião independente da realidade real mensurável das coisas mensuráveis, e da realidade virtual das coisas imensuráveis. Também sou poeta, e tenho uma estética que existe por si mesma, sem ter que ver com a filosofia que tenho ou com a moral, a política ou a religião que sou ocasionalmente forçado a ter.
António Mora, sim. Esse realmente, recebendo de Caeiro a mensagem na sua totalidade, se esforçou por traduzi-la em filosofia, esclarecendo, recompondo, reajustando, alterando aqui e ali. Não sei se a filosofia de António Mora será o que seria a de Caeiro, se o meu mestre a tivesse. Mas aceito que seria a filosofia de Caeiro, se ele a tivesse e não fosse poeta, para a não poder ter. Assim como da semente se evolve a planta, e a planta não é a semente magnificada, mas uma coisa inteiramente diferente em aspecto, assim do gérmen contido na totalidade da poesia de Caeiro saiu naturalmente o corpo diferente e complexo que constitui a filosofia de Mora. Vou deixar a exposição da filosofia de Mora para o trecho seguinte a este. Estou cansado de querer entender.
27-2-1931
Pessoa por Conhecer – Textos para um Novo Mapa . Teresa Rita Lopes. Lisboa: Estampa, 1990.
– 372.