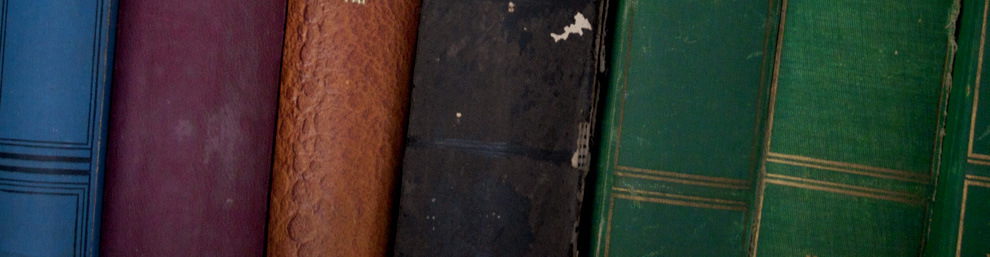Querido Chris,
Imagino que, à esta altura, tu já te preparas para chegar. Tens sonhado comigo, pelas noites e sincronicidades que te perseguem, a cada instante.
Tu, assim como eu, lutaste contra a loucura divinal, com receio de perder a consciência. Entanto, houve um momento de libertação dessas amarras, tão antigas e mesquinhas, que separam o sonhar do viver.
Sabes que deves encontrar-me em Lisboa, neste domingo que precede a assunção de Nossa Senhora, dia sagrado para Portugal. Dia que será sagrado para toda a humanidade.
Descobri a tua existência há uma semana. Nunca te vi, em trajes de herói. Assisti alguns filmes dos quais participaste, mas sou muito distraída.
Possuo uma certa repulsa à tua terra, tão abundante em recursos, tão vazia em coletividade.
Teu apelo à Universa chegou-me de surpresa. E, por distração, só ouvi o teu chamado na segunda vez.
Nascemos no dia 13 de Junho, com dois anos de diferença. Tens a fama. Eu, o anonimato.
Nós comungamos o sonho de cães, crianças e felicidade, ao pé do mar. Sonhos que eu me havia negado, quando me senti abandonada pelo Cosmos.
Pesquisei sobre quem tu és. Tuas lutas por um planeta mágico para todas as espécies terrestres. Foi neste momento que virei, verdadeiramente, tua fã. Poucos são os privilegiados que abdicam de seus reinos, em prol do todo.
Eu também estive em muitas batalhas. Há quatro anos fui encarcerada pelos deuses. Conheci a desumanidade absoluta, para finalmente reabitar a Deusa Suprema.
Escrevi, escrevi e escrevi, com a ilusão de meus dizeres serem suficientes para salvar-nos.
No dia 9 de Agosto de 2018, em transe mediúnico, fiz um poema tão bonito, para o homem que julgava ser o salvador. Agora percebo que estava me lembrando de ti, devagar e urgentemente.
Deves ter chagas em teu corpo. Uma cicatriz no joelho direito, talvez? Ou no esquerdo, para não seres meu gémeo, mas a minha completude. Carregas o nome do Cristo, e também de Eva. Eu carrego o nome de Maria, e também dos Portais.
Tenho histórias para te contar, dessa vez ao vivo, a cores, entre sussurros e risadas. Estou farta de escrever a nova Terra, sem a tua companhia.
Teremos que aprender as nossas línguas, nossas músicas, nossos amigos.
Viste as estrelas cadentes também? Azul e vermelha. Verde e amarela. Cores da nossa ancestralidade.
Tens sentido que as músicas que amas vem para te lembrar de quem és? Tens medo de ser narcisismo? Eu também tive. Apenas ao aceitar o meu destino este pavor se diluiu. Porque há muito para devanear, se vamos libertar os nossos irmãos de jornada.
Que possamos transformar esse castigo divino em quimeras.
A hora é chegada, meu querido. Porque o mundo não terá outra alternativa, quando o conto de fadas for real.
Assim, despertaremos as estátuas, as esfinges e as fontes.
Até o coração de todos os homens.