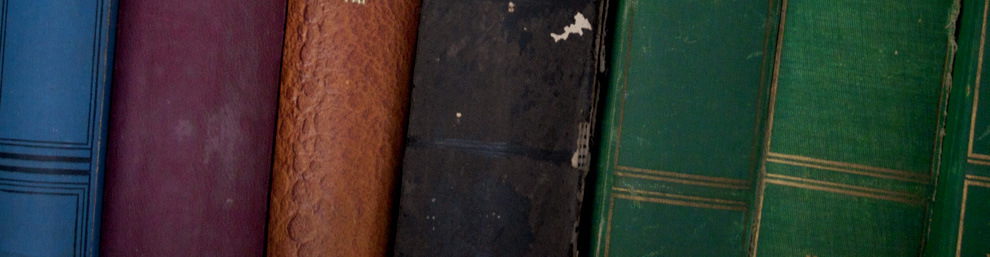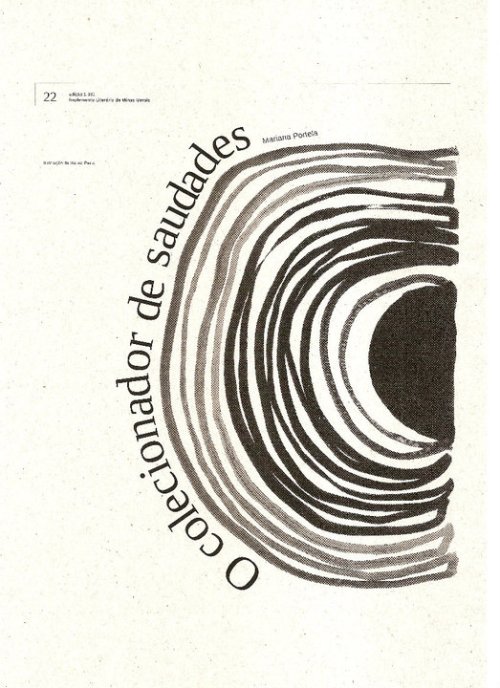Há temor maior que a abertura de um livro? A surdez que antecede o espamo. Aquele momento fugidio – e para tantos sem nenhuma importância – em que se dilacera a capa? Existe alguma taquicardia superior ao deflorar açucarado desse rompimento?
Pois bem, eu cresci sentindo essa emoção. Cada página mergulhada me foi mais importante do que beijo de namorada. Por muito tempo, senti-me um estrangeiro de mim mesmo, um foragido do planeta, caminhante de muletas.
Olho hoje para tudo o que se considera mundo e me choco. Agora, agora que tenho pessoas em minha posse, agora que há relações verdadeiramente humanas pulsando dentro das minhas emoções, questiono-me sobre o meu teórico aprisionamento.
As pessoas que passam por mim – ao contrário dos meus esféricos personagens de outrora – são cartões postais de si mesmas. Paisagens magistrais, mentiras fotográficas, sóis em brasa sem luz alguma. Todos com um estarrecedor medo de viver.
Empiricamente, vejo que não há depressão, bipolaridade, ansiedade ou esquizofrenia. A maior patologia de todos é a própria vida. Pavor ao câncer, ódio à pobreza, ojeriza à criminalidade. Medo de matar, medo de morrer, medo da loucura, medo de desvelar a verdade. Medo do adoecer. E é tão devastador esse medo de viver que o medo torna-se invólucro do enfermo. E se morre, literalmente, de tanto se pensar na iminência dos perigos.
Dir-nos-ia o mestre Guimarães Rosa que o viver é muito perigoso. Quantas vezes fui acusado de covarde, pela escolha da literatura! Eu? Eu que naveguei por abismos impossíveis, por angústias algemadas. Eu que não recolhi os pulsos, para não esconder os quelóides do suicídio fracassado. Eu que dormi ao relento, acompanhado de seres inumanos. Fui, inerte, o grande protagonista dos anoiteceres da alma! Eu e os meus autores. Testemunha da única verdade. Porque escrever é ter a nudez tatuada.
Em minha casa não entra ninguém que não tenha sido convidado. Na minha cama só há espaço para volúpias. As mulheres dos meus devaneios têm lábios mais maduros e seios desprovidos de consertos mesquinhos. E as páginas me engravidam de vocabulários e sonhos e sentidos redondos. E, às vezes, eu declamo minha cumplicidade para impregnar minha sala em amarelecidas fumaças. Inebrio-me com o gosto mofado dos anos. E durmo tranquilo porque o amanhã me reserva o inefável.
Sim. Eu só posso ser o farol que se arrisca frente às tempestades porque me nutri em coragens escritas. E saio pelos papéis pulverizando insanidades e encorajando mentecaptos. No entanto, há mais veracidade em mim. Eu, Scott Johnsonn, temerário analfabeto da vida.
Afinal, quem é letrado em viver? Vocês, com suas fobias, suas alergias ao oxigênio? Vocês, mais sujos que os mendigos? Mais vis que as meretrizes? Vocês, atordoados por ressacas morais! Por inúteis amnésias alcoólicas? Com o receio tedioso de soltar o ignóbil que os corrói por dentro?
Vocês, agorafóbicos que são! Ressecados pelo horror à chuva. Invencioneiros sem bússola. Infames pelas próprias castidades. Como se os deuses estivessem preocupados com seus pecados mínimos. Acham mesmo que os deuses explanam a pureza?
Eu cresci com os mitômanos abençoados. Homens e mulheres que corrigiram a vida através de suas inventivas narrações. Delirantes, fracos, derrotados. Imperfeitos. Mas que puderam transmitir esse impalpável fiapo. Que cicatrizaram sua inconsciência ao tecer oraculares linhas em sinceridade. Porque o outro, espelho do avesso, anestesia todas as essências. E é a literatura – de quem lê e de quem aceita ser hospedeiro – é ela a mãe das nossas terras.
Parem! Chega dessa repulsa a mim! Eu, como todos aqueles que des-cobrem os signos dessa humanidade, sou incapaz de dissimular. Transparente como são todas as infâncias. Descrevo minhas mazelas. Rasuro-me. Reviso-me. E sei. Jamais abrigarei o ponto final.