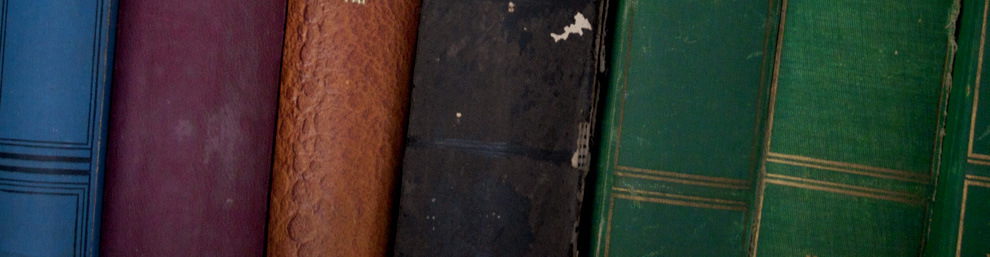Eu sempre organizava a casa para a chegada do Tom. Comprava leite Ninho, lia a programação infantil do fim de semana, punha mais água nas plantas. O ritual de sua vinda me fazia um homem mais sereno. Deixava de lado as noitadas regadas à gin tônica ou uísque sour. Esquecia-me do computador, dos meus funcionários, de tomar o antidepressivo.
Às vezes, confesso, ainda me dá medo de como será nosso encontro. Nem sempre estamos em plena sintonia. Por mais que nos esforcemos, os dois, há a estranheza da ausência, o escândalo da demora, a vertigem de me ver, em outros olhos.
O Tom mora com a mãe, no Recife, desde os dois anos de idade. A cada quinze dias ele vem me visitar em São Paulo. Este fim de semana era especial – feriado prolongado. Tínhamos cinco dias para desbravar dinossauros, visitar planetas pueris, desenhar universos encantados.
Decidi convidar duas amiguinhas do jardim de infância, no sábado. Sinceramente, não sabia se elas ainda lembrariam dele. Quando se tem dois anos e o cérebro ainda em construção, é impossível discernir qual lembrança escolherá a memória como casa.
A Beatriz e sua mãe chegaram pontualmente às três horas. O sorriso da pequena era capaz de me salvar de todos os pesadelos que tive, quando criança. A inesgotável felicidade de quem vive os instantes em doses homeopáticas. Sua alegria em ver meu filho, austero, menino, transbordava os quartos e os contos de fadas. Paixão mesmo.
A outra menina demorou mais de uma hora para se juntar àquela sala de verdades inventadas. Sua mãe, Maíra, uma socialite que não estava acostumada a dirigir o próprio carro, tivera dificuldade em estacionar. Eu moro ao lado do Morumbi e era final do Campeonato Paulista.
Enquanto a Julia, rebenta da burguesa insossa, não chegava, parecia-me óbvio que Beatriz se esbaldava na exclusividade com o Tom. Envergonhadíssima e alerta. Elegia todos os seus brinquedos preferidos. Enredava desvarios de eternidade. Sorria, tímida, à espera da aprovação da mãe que, estarrecida, buscava alguma cumplicidade no meu olhar.
A tarde durou menos que um pôr do sol de outono. Quando me deparei com o relógio de mesa, uma relíquia vintage comprada na semana anterior, já passava das oito. Repletas de brigadeiros e poesia, as meninas se despediram do Tom e de mim. Reparei nos sorrisos escondidos na íris de Beatriz. Sua mãe, acanhada, veio me confessar, baixinho:
– A Bia fala toda hora do Tom. Ele é o primeiro amor da vida dela, mesmo sem vê-lo.
Atordoado, passei a noite pensando naqueles primeiros afetos. Amores que levamos em formas de nuvens. Amores que se dissipam nos azuis e esquecemos para sempre.
No dia seguinte, levei o Tom para Guaecá. Achei que nossas horas seriam melhores, longe do caos da Pauliceia. Lá, distraído pelo cheiro de algas e mergulhado nos escritos de Henry Miller, recebi um vídeo da mãe da Bia. Elas haviam estado no Borboletário de São Paulo, naquele momento. Uma borboleta, silenciosa, atreveu-se a pisar no nariz da menina. A mãe, orgulhosa, registrava a doçura com o celular, quando a filha lhe disse:
– Borboleta, quero que você vá até o Tom, que mora no Recife!
Uma delicadeza enorme e corroída me suspendeu em quimeras. Como é possível uma criança sentir esse absurdo gratuito que é o amor, nessa idade?
Mostrei o vídeo, imediatamente, ao meu filho, exausto de oceanos. Ele, menino, mostrou-se profundamente desinteressado:
– Papai, eu detesto borboletas!
Senti-me um imbecil. Por ser homem; por entendê-lo; por testemunhar tamanha atrocidade, vinda dele. Meu pequeno paraíso repetia as mesmices que eu tanto abominava. Onde havia escondido sua sensibilidade?
Passei o domingo inteiro e boa parte da manhã de segunda a explicar ao Tom sua impassibilidade com a amada. Argumentei que nada era relacionado às borboletas. Só existia o desejo de endereçar saudades, algures.
Não tive a certeza de que ele me entendeu, até o fim do dia. Entramos no mar, ainda morno de sol. Uns quatro peixinhos, gêmeos, invadiram a paisagem. Eram amarelos com detalhes rosados. O Tom, inebriado pela possibilidade de agradecer, tentou encarcerá-los com os dedos, miúdos. Falou, com a liberdade dos deuses:
– Vou guardar esses peixinhos para a Bia, papai. Quem sabe ela também goste de voar para dentro!
Embasbacado, eu não consegui pensar em outra coisa: tornei-me pai para regressar ao Nunca.