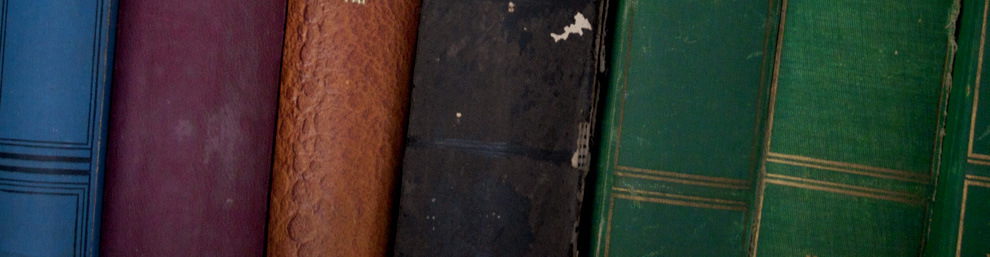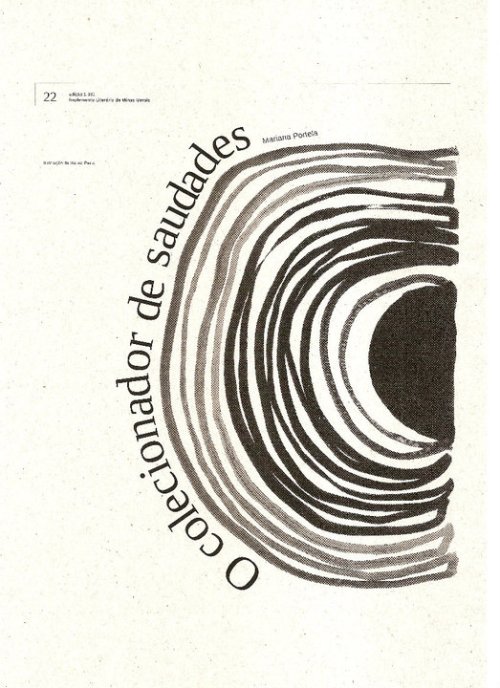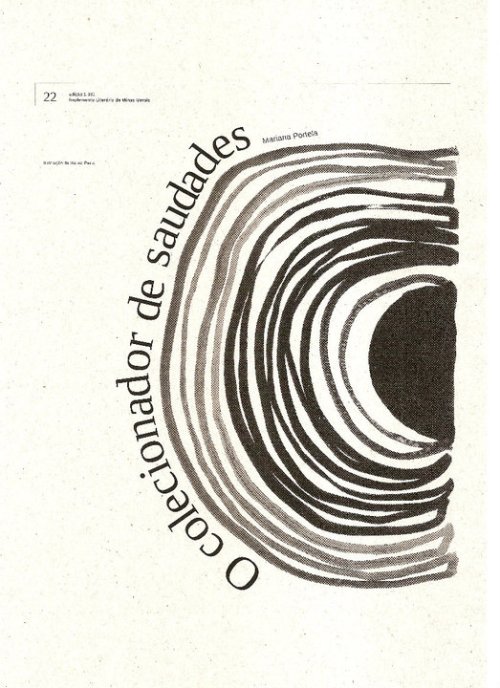

Eu gostava mesmo de escrever em terceira pessoa. No entanto, tentei e foi um bocado frustrante. Acho que ainda trago a própria vida embutida no coração do pensamento. E isso passará, com o rebentar dos anos.
Chamava-me Manuel Leite de Barros. Tenho vinte e dois anos e decidi dar um fim a mim mesmo. E não, não cometerei suicídio. A morte não tocará meu corpo, embora eu vá matar a mim durante essas páginas. Porque estou farto de ser eu.
Desde miúdo sinto-me um estranho em casa. É tradição em minha família colecionar. Meu pai possui uma coleção de bulas de remédios. Obviamente, trata-se de um inveterado hipocondríaco. Ele cataloga todas as descrições medicamentosas em ordem alfabética, dividindo-as em doenças. E orgulha-se imenso de ter mais de dois mil papéis ordenados em uma pasta castanha.
Minha mãe desde sempre foi apaixonada por corujas. Para ela, mais que símbolo do saber, as corujas são as grandes amantes da noite. “Com certeza a sabedoria acontece na escuridão”, diz-me repetidas vezes. Hoje, sua coleção já transborda doze estantes e ultrapassa quinhentas réplicas de todos os formatos, regiões e cores.
Até mesmo uma prima que mora no Brasil é viciada em coleções. Ela armazena todas as palavras bonitas que lê nos jornais. Por dia são escritas em seu caderno cerca de cento e doze novas aquisições.
Duvidei de meus laços sanguíneos até amar pela única vez. Uma profética festa de Santo Antônio, no dia 12 de junho de 2003. Antes disso, não havia colecionado absolutamente nada.
Eu me encontrava ao pé do Beco do Vigário, em Alfama. A lua estava cheia e a embriaguez já começava a me cobrir de sorrisos tolos. Foi ali que avistei Carminho.
Maria do Carmo Pereira tinha acabado de completar seus dezenove anos. Era irmã de um conhecido meu. Eu havia sido apresentado a ela quando éramos crianças. Passamos dez anos sem nos cruzar – mesmo sendo Lisboa uma cidade minúscula.
O velho clichê do amor instantâneo fez de mim sua vítima. Passamos a madrugada toda a conversar. Acolhidos pelo miradouro secreto, atrás da igreja de Santo Estevão. Só nos permitimos partir quando a manhã nasceu quente e o Tejo inundava-se em raios de ilusória pureza.
Foi assim que comecei a colecionar. A colecionar Carminho. Seus gestos, sua timidez. Cada partícula de sua alma. Apreendi sessenta e três olhares, cento e quarenta e sete sorrisos, vinte e seis jeitos dela prender os cabelos e duzentos e oito beijos. Superando toda e qualquer dicotomia sujeito-objeto, eu era capaz de colar minha visão ao seu rosto. Um ser indissolúvel, apartado em dois corpos.
Nada necessitava de catálogo. Ficava tudo cravado em minha memória. Nas horas em que não a via, brincava de contar minha suntuosa coleção. Ao final, sentia-me verdadeiramente um Leite de Barros.
Contudo, nossa relação teve um prematuro fim. No dia 14 de julho de 2004, ao sair apressada da Estação Cais do Sodré para me encontrar, Carminho foi atropelada por um elétrico. Seus ossos frágeis não resistiram às feridas e, algum tempo depois, ela faleceu no hospital.
Eu não me conformei com a perda. E, para não deixá-la morrer em mim, passei a colecionar saudades. Todos os dias, religiosamente, dava corda nos seus beijos, nos seus olhares, nos seus cabelos.
Algumas semanas após o seu enterro, decidi deixar Lisboa e a minha família. “Porque me sabia bem sentir saudades deles todos”. O afastamento seria imprescindível para aumentar minha coleção.
Pedi transferência do meu estágio para Viseu, onde meus pais tinham uma propriedade vazia. Por longos seis meses, pude beber da minha nostalgia. Enxertava a pele em fotográficos ensaios. Alimentava a melancolia com curtas metragens daqueles que eu amava. E todos os sofrimentos eram apaziguados.
Cometi, todavia, um erro fatal. Posicionei Chronos em cumplicidade. E ele é um assassino silencioso. Porque a saudade – ao contrário do que dizem os fadistas – é inimiga das horas. É brutalmente borrada no tempo.
Na manhã de hoje, fui incapaz de reviver um dos beijos de Carminho. Espremi os olhos e não o achei. Rebobinei-me todo e havia desaparecido. A sofreguidão em resgatá-lo deixou-me ainda mais confuso. Eu me traí, sepultando minha doce reminiscência. Agora, estou à deriva. Só enxergo nebulosas. Destroços. Lábios partidos ao meio.
Hoje fui deitado fora. Como me dói, meu Deus! Como me dói essa saudade que sinto das minhas saudades colecionadas! Antagônico, o esquecimento enjaula-me à lembrança. Ninguém ensinou a mim que as coleções devem ficar cobertas de pó. Encostadas em prateleiras. Presas em vidros de éter.
O amor não é encarcerado nem posto em conserva. Mesmo o maior dos amores pode nublar. Paulatinamente, por inércia, cautela em demasia ou escolha, todo amor é passível de fenecer. E a saudade, pela sutil vingança do tempo, não é colecionável.
Digo adeus a mim neste momento porque vou me mudar. Levo meu espírito para abrigar outra identidade. Crio um semi heterônimo. Sem passado algum. Colecionarei saudades de mim mesmo, enquanto me for permitido. Avisto virgens futuros para o meu efêmero ser. Se, por ironia, apagar também essa saudade, não há problema. Eu já não me serei.
* Ps: tive a honra de ter sido publicada no Suplemento Literário de Minas Gerais, com este conto.